Claro que o problema do jornalismo não é o papel, ou a falta de. Nos episódios anteriores sobrevoamos algumas questões que nos levam a responder a questão do título com um “claro que não!”. E hoje, pra encerrar a série (ainda que esteja longe de abandonar esse assunto), espero adicionar alguns complicadores.
Assim como o rádio não desapareceu nem perdeu a utilidade com o surgimento da televisão e a televisão não fechou com o surgimento da banda larga de internet, o jornal impresso não precisaria, obrigatoriamente, sair de cena porque surgiu alguma novidade.
O papel do jornal (com o perdão do Alberto Dines), vai muito além do papel em que é (era?) impresso. E quando vemos jornais suspendendo suas edições diárias impressas (esta semana quatro jornais catarinenses deixam de circular), a preocupação não é só com as demissões que acompanham essa rotina administrativa. Mas, principalmente, com o fato de que essas decisões foram abduzidas pelo mundo sem alma das piores “rotinas administrativas”.

O JORNALISTA, ESSE INCOMPETENTE!
Havia jornais em crise bem antes dessa palavra virar moda. Acompanhei, mais ou menos de perto, a agonia de vários jornais que acabaram fechando. E em nenhum dos casos a culpa foi de algum problema relacionado com a plataforma (o fato de ser impresso), ou com a concorrência de outros meios.
Naturalmente, quando um jornal fecha, o leigo pensa que os jornalistas fizeram alguma coisa errada. Mal sabe ele que em muitas empresas jornalísticas os donos, acionistas, controladores ou que nome tenham, odeiam jornalistas. E, acima de tudo, detestam essa coisa incômoda, cara e criadora de caso que é o jornalismo.
Assim, quando as contas não fecham, quando o lucro está escasso e o prejuízo bate às portas, o fato do jornal prestar um serviço público, da informação ser um bem essencial para a vida em sociedade e da fiscalização do poder público ser fundamental para o bom funcionamento da democracia não são colocados sobre a mesa. Nada disso é levado em conta quando a direção tenta encontrar o caminho do lucro (ou da fuga do prejuízo). Tenho a impressão que numa fábrica de sabão, ou numa agroindústria, levam mais em conta as qualidades do seu produto e a natureza da sua atividade principal, do que em muitas empresas jornalísticas.

ESTUDO DE CASO Nº 1
A Gazeta Mercantil foi um grande jornal. Seu mote publicitário, “o maior jornal de economia e negócios da América Latina” era verdadeiro. O jornal cresceu porque seu dono, Herbert Levy, na década de 1970, entregou a direção a um grupo de jornalistas competentes, em quem tinha irrestrita confiança. Tanto que só lia o jornal depois de publicado. Como todos os demais leitores. A GM foi feita, portanto, por jornalistas, sob o comando do Roberto Muller Filho. Os principais nomes do jornal estão na história do jornalismo brasileiro, como Matías Molina, Armênio Guedes, Glauco Carvalho, Celso Pinto, Tom Camargo, Getulio Bittencourt, Sidnei Basile, Mário Alberto de Almeida, Lilian Witte Fibe, Ottoni Fernandes Jr., Paulo Totti, Aloysio Biondi, Dirceu Brisola e Klaus Kleber.
Em cinco anos, no final do século passado, o jornal ultrapassou a marca dos 100 mil exemplares (que, para o Brasil e para um jornal especializado, é muito expressiva) e instalou 21 sucursais. Passou a ser impresso em quase todos os estados e nesses locais tinha cadernos regionais. Chegou a ter mais de 500 jornalistas. Sua sede, em Santo Amaro, São Paulo, era um prédio de dez andares, com restaurante e serviço médico. Uma potência.
No campo jornalístico, portanto, tudo parecia estar sendo feito corretamente. A separação entre o editorial e o comercial era efetiva (ainda que colaborassem, não havia interferência). Os repórteres não aceitavam presentes e as viagens, mesmo para o caderno de turismo, eram feitas com o jornal pagando as passagens.
Mas, como em outros grandes jornais, na época do Real valorizado, da bolha da internet, da privatização das telefônicas, a administração do jornal (sob o comando do Luiz Fernando Levy, filho de Herbert) fez apostas que se mostaram equivocadas e não conseguiu gerenciar a coisa quando o dólar estourou. É uma história longa e complexa, que aqui e ali começaram a contar (como no artigo “Gazeta Mercantil, um final melancólico”, do Luiz Antonio Magalhães, no Observatório da Imprensa), cujo resultado prático era que, de tempos em tempos, os salários atrasavam, Aí era feita uma nova operação bancária e tudo se regularizava. Até a grande implosão de 2001. De uma tacada, 250 jornalistas demitidos, por email, sem os seus “direitos”, depois de uma greve pelo pagamento dos salários atrasados.
Tava indo tão bem…
Quando a Folha e o Globo começaram a criar um jornal de economia (o Valor), que seria concorrente direto da GM, eu trabalhava na sede da Gazeta, em São Paulo. A equipe inicial que montaram era composta por muitos jornalistas que tinham trabalhado na Gazeta. Aí bateu uma certa paúra. “Hum, acho que eles vêm fortes em macroeconomia e a nossa sucursal de Brasília está fraca, temos que reforçar”, diziam os chefes.
Foi nesse embalo que fui transferido para Brasília, como secretário de redação (que faz a coordenação da redação, distribuição da pauta e o contato com a matriz). O experiente brasiliense Zanoni Antunes foi contratado para dirigir o jornalismo da sucursal, Como tinhamos trabalhado juntos antes (na Empresa Brasileira de Notícias, também em Brasília, no que deveria ter sido o governo do Tancredo), foi fácil engrenar e logo a equipe cresceu, com uns onze jornalistas dentre o que havia de melhor em cada área.
Quando o Valor publicou seu primeiro número, teve comemoração na sucursal da Gazeta: o concorrente saiu fraco e naquele dia nós tínhamos material muito melhor e exclusivo de Brasília. Pronto, passou o medo. E aí começava a diversão: é ótimo fazer jornalismo com uma concorrência à altura. A gente bate num dia, apanha no outro e quem ganha é o leitor, porque o esforço é sempre pela melhor informação.
O grande Maurício Correa, repórter da área de energia, conseguia o feito de sair, de entrevistas coletivas, durante a crise de energia (a “crise do apagão” em 2000), com informações exclusivas. É preciso conhecer muito a área e ser muito atilado, pra ver e ouvir, numa coletiva, o que os outros colegas não perceberam.
Não foi, portanto, a concorrência do Valor que abalou a Gazeta Mercantil. Não foi a entrega de um mau produto, ou jornalismo de baixa qualidade, que matou a Gazeta Mercantil. Mas, a partir de 2001, seus problemas administrativos cresceram. O atraso de salários e a falta de diálogo levaram à greve, encerrada com a demissão de centenas. O jornal teve uma sobrevida melancólica, com novos donos, até 2009, quando fechou definitivamente. O Valor Econômico continua e tudo indica que esteja saudável e bem disposto. Mesmo com a tentativa do governo de estrangulá-lo, secando a fonte de renda que era a publicação dos balanços das empresas.
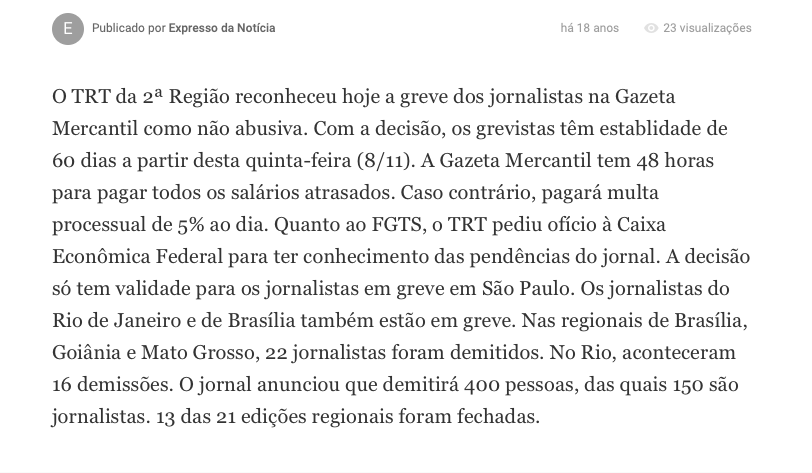

ESTUDO DE CASO Nº 2
O jornal O Estado foi um grande jornal. Era o mais antigo diário em circulação em Santa Catarina. Escrevi sobre ele e sua história no capítulo que trata sobre a imprensa na Grande Florianópolis, do livro “Jornalismo em Perspectiva“, com que o Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina comemorou seu cinquentenário. O livro pode ser baixado na área de publicações, do Sindicato.
Minha vida profissional esteve muito ligada a esse jornal. Ali publiquei minhas primeiras crônicas, em 1970. Em 1972, quando o jornal repentinamente mudou seu sistema de composição e impressão e ampliou a equipe, para concorrer com o recém lançado Jornal de Santa Catarina, tive ali meu primeiro emprego com carteira assinada: redator do Caderno 2, que era editado pelo Paulo da Costa Ramos.
Mesmo tendo ido cursar jornalismo em Porto Alegre, continuei ligado ao jornal, publicando crônicas semanais e fazendo colunas de humor. Voltei e saí algumas vezes, fiz várias outras coisas, em outras empresas, até ser convidado pelo dono do jornal, José Matusalém Comelli, para ser editor-chefe, em 1987.
Nessa posição pude vivenciar de perto os problemas que afligiam o jornal e ver que não bastava fazer um bom produto. Com a ajuda do Flávio Sturdze, que chamei pra ser meu sub, montamos uma equipe com o que havia de melhor no “mercado”.
Quando conversava com Comelli sobre os resultados que estávamos obtendo, a coisa nunca era muito animadora: o jornal dava lucro operacional, vendia bem, tinha uma boa carteira de anunciantes, os classificados enchiam vários cadernos. Mas… e sempre tem um mas, operações financeiras feitas anos antes, consumiam o lucro.
O fato de ter perdido a concorrência pela concessão do canal da TV Catarinense (que a RBS levou, com o supreendente apoio do governador Konder Reis), abalou muito o ânimo do Comelli, que esperava contar com o canal de TV (e a afiliação à Globo), para dar suporte e tranquilidade financeira ao jornal e demais operações. Aí, quando a RBS resolveu fazer um jornal em Florianópolis, acho que ele meio que entrou em pânico.
Para se preparar para o concorrente, Comelli foi aos bancos. E reforçou, como pode e como foi aconselhado, o jornal. Há quem diga que ele superestimou o adversário e subestimou a força da sua própria marca. O fato é que, em 1988 a gente sentia reflexos das decisões tomadas em 1985. Que, naturalmente, também sofreram com a instabilidade econômica e o Plano Cruzado.
Mas, enquanto estive à frente da redação, travamos boas batalhas com o concorrente, que não teve vida fácil. O fato de ter uma televisão ajuda não só no reforço de caixa, mas também na atração de anunciantes (é possível fazer “pacotes” vantajosos). Mesmo assim cobrimos melhor vários assuntos, saímos na frente outros tantos e não tivemos cancelamento de assinaturas por leitores descontentes com o jornal. A concorrência não nos assustava. Até porque sabíamos os limites do alcance dos tiros do “inimigo”.
Como disse tinhamos, Flávio e eu, montado a melhor equipe possível, trazendo gente nova e aproveitando o que estava na casa. Jornalistas, claro, cheios de espírito crítico, animados, destemidos. Quando o jornal teve problemas para honrar a data de pagamento, subiram nas tamancas e resolveram entrar em greve. Foi uma boa oportunidade, não planejada, mas certamente não lamentada pela administração, para reduzir a equipe. Sem negociação, foi encerrada uma etapa, ocorreram demissões e a nova equipe, “enxuta”, tocou o barco, com novo editor. O jornal se manteria em boas condições (ainda que perdendo terreno gradualmente), até o final do século. Fechou definitivamente em 2009, depois de ter se transformado em tabloide semanal, com tiragem mínima.
A Leani Budde publicou, em 2017, o livro “Jornal O Estado, Da glória à decadência (1915-2009)” em que conta não só a história do jornal, como o seu contexto econômico, político e social. O Carlos Damião registrou, numa nota, o lançamento, comentando sobre a defasagem na informatização do jornal, que teria tido participação nos problemas que causaram a decadência de O Estado. Não concordo, mas é um bom tema pra uma outra conversa.

À SOMBRA DOS PICARETAS EM FLOR
Quando se fala em jornais impressos e suas dificuldades, sempre surge a ideia de que jornais locais, de bairro, têm problemas menores, por exemplo, com a distribuição, por não precisar cobrir muitas distâncias. É verdade. E existem muitos casos, aqui em Santa Catarina mesmo, de bons jornais que continuam firmes e fortes em sua circulação de papel.
O que faz, ou desfaz, um jornal, não é o papel, a tela, a onda hertziana: é a qualidade da informação que ele veicula. A informação, como vocês sabem, é um bem essencial, como a água, o ar, o alimento. Coisa de primeira necessidade. Mas, assim como rejeitamos a água salobra, turva, ou com gosto de cloro, também não gostamos de informação embolorada, falsa, sem garantia de procedência ou com a procedência tão evidente que a comprometa.
Os bons jornais locais parecem mais resilientes não porque estejam imunes a problemas como o salário dos motoqueiros da distribuição, o custo do papel ou o choro dos anunciantes e assinantes. Mas porque têm uma identificação profunda com suas comunidades. Sabem o que aflige seus leitores e tratam de coisas que estão diretamente relacionadas com a vida, com o dia a dia da cidade.
Sofrem muito, contudo, com a picaretagem que, desde tempos imemoriais, ronda jornais e jornalistas. O picareta vive procurando uma forma de enganar o leitor, aproveitando-se da necessidade de informação que todos temos.
O picareta clássico promete que consegue colocar a foto do aniversário de 15 anos na coluna social, desde que o cara compre um anúncio. O picareta colunista garante a fotinho na coluna desde que o pagamento seja feito em dinheiro, para ele mesmo. Mas pode ser uma notinha política mesmo, quando não se tratar de colunista social.
Como em todas as profissões, no jornalismo também existem picaretas. O repórter/assessor de imprensa, por exemplo. Ganha de alguma empresa ou entidade para divulgar informações à imprensa e ganha de um jornal/tv/rádio para ir atrás de informações. E, adivinha, sempre acaba achando as informações que ele/ela mesmo produz. Mas esses nem são muito numerosos ou perigosos.
O picareta, quando resolve ter um jornal, é um espanto. Outro dia me contaram que num jornalzinho de bairro, cheio de colunistas, era fácil publicar, porque o dono do jornal cobrava baratinho cada artigo. Sim, o articulista paga. E o jornal também cobra mensalidade dos governos, dos políticos, dos comércios e de quem mais quiser aparecer no “noticiário”. Claro, a matéria também é paga. E os anúncios, naturalmente, idem.
Isso de “matéria paga” é antigo. E está entre as maiores causas de desmoralização do jornalismo. É uma prática famosa, embora nem sempre praticada na extensão que muitos acreditam. Dependendo da roda de conversa, fica difícil a gente argumentar que uma reportagem, que sabemos que foi feita corretamente, não foi comprada por alguém, ou que não serve a alguma determinação espúria dos donos do jornal. Porque muita gente acha que tudo, ou quase tudo, que lê, foi negociado.
E aí está, a meu ver, o nó da questão. A credibilidade foi pro ralo. E não vejo muita gente interessada em recuperá-la.

TÁ, E DAÍ?
Para responder à pergunta do título desta série “comemorativa” (Precisa mesmo ter papel?): não, não precisa ter papel, mas precisa ter jornalismo. O que estamos assistindo é que, a pretexto de uma crise nos diários impressos, os jornais estão indo para o “digital” sem levar o jornalismo. Ou levando uma variação genérica do jornalismo. Que é mais flexível à venda das pautas, ao controle do conteúdo pelos anunciantes e à mistureba incestuosa do entretenimento com a notícia.
Como o “administrativo” só pensa naquilo (fechar as contas no fim do mês com lucro) e como os veteranos foram alijados do processo, a turminha nova, louca pra mostrar serviço e ciente de que aquelas quatro pessoas são as únicas empregadas num raio de muitos quilômetros de deserto jornalístico, embarca com mais facilidade na história de que o fim dos jornais impressos é o fim de um jeito antigo de fazer jornalismo. E que o que sobreviveu é bom, é inovador, é o futuro.
Da mesma forma, muitos dos que ficaram de fora das reestruturações e da juvenilização da profissão, embarcam na canoa furada de que tudo o que a gurizada faz é ruim. Que o jornalismo pra ser levado a sério precisa do papel, da tinta que sai nas mãos e daquele sangue dado pelo repórter que tinha que parir uma matéria sem celular, sem internet e sem computador em casa.
O jornalismo é caro, não é pra qualquer um/uma, exige cultura geral acima da média, conhecimento do idioma acima da média e técnicas de reportagem, redação e edição que podem ser ensinadas em escola. Mas, dadas essas condições, não é complicado. Uma história bem contada tem sempre audiência. Se esssa história, além de tudo, tem informações novas, relevantes, torna-se produto de primeira necessidade. Que pode ser entregue no papel, se não for alguma coisa factual; numa tela, se for informação urgente; em produto multimídia, com animações, videos, gráficos interativos, se for um material de maior fôlego.
Acima de tudo, está a informação de qualidade, esse insumo vital tão descuidado e tão abandonado. Mesmo no tempo em que os jornais diários impressos em papel reinavam absolutos, alguns de nós desdenhavam desse bem precioso e não o levávamos a sério. Agora todos choramos sobre o jornal fechado, sem perceber que estamos sendo subtraídos nessa tenebrosa transação que não leva, para o “digital”, o que de mais importante os melhores (embora raros) diários impressos um dia tiveram: informação exclusiva socialmente relevante, apurada de forma independente.
Solução do passatempo
O TEXTO NO COMPONEDOR:

The quick brown fox jumps over the lazy dog and feels as if he were in the seventh heaven of typography together with Herman Zapf, the most famous artist of the
A primeira parte (até lazy dog) é uma frase que tem todas as letras do alfabeto ocidental e se usa para ver como são todos os tipos de uma determinada fonte. Não faz muito sentido: “A rápida raposa marrom pula sobre o cachorro preguiçoso”. E a continuação entra na brincadeira, para citar o Herman Zapf: “e ela (a raposa) se sente como se estivesse no sétimo céu da tipografia, junto com Herman Zapf, o mais famoso artista do”…
Zapf, que morreu em 2015, foi um famoso calígrafo e designer de tipos. Criou fontes muito populares, como Palatino, Optima, Zapfino e os sempre úteis símbolos do Zapf-Dingbats.
Créditos das fotos:
Rolos de papel no destaque: Confederation of European Paper Industry (cepi.org)
Máquina de vender jornais: Cesar Valente
As demais fotos são do pixabay.com, site de fotos liberadas para uso sem pagamento de royalties. E seus autores são:
Máquina de escrever: Babyboomer100
Componedor: Willi Heidelbach
Picareta: Zorro4
Papel higiênico: Alexas_Fotos