Tenho a impressão que essa mania que alguns dos velhos jornalistas têm, de falar que “no meu tempo era melhor”, não resiste a um exame mais aprofundado. Quer ver?
Comecei a trabalhar em jornal na década de 70 do século passado, com a ditadura militar brasileira em pleno vigor. Agora, que vivemos um tempo com tantas semelhanças (governo militar, desmonte das conquistas sociais, perseguição aos críticos do regime, tentativas de desmoralização do jornalismo…), talvez seja oportuno conversar um pouco sobre esse “mantra” que tantos usam, às vezes até sem querer.
Era uma situação diferente. O esquema de financiamento do jornalismo funcionava razoavelmente bem. As empresas jornalísticas empregavam jornalistas (e não jornalistas), ofereciam local de trabalho e pagavam (quase sempre) em dia e mensalmente. Esse quadro mudou. O modelo de vender espaços de publicidade nos jornais, TVs e rádio para pagar o jornalismo entrou em crise. Assustados, os empresários recorreram à solução que conhecem melhor: “enxugar” as equipes.
Hoje temos redações minúsculas, com gente sobrecarregada e em muitas delas gente trabalhando remotamente. Praticamente nada do que conhecíamos ou vivemos em termos de ambiente de trabalho, se mantém igual. Claro, os proprietários continuam querendo agradar o governo da hora e ainda acreditam que a razão principal de não terem os lucros esperados é essa “mania” de noticiar só coisa ruim.
“Temos que mudar isso, fazer um jornalismo positivo, que mostre as coisas boas”, é uma frase que ouvi, com algumas variações, de mais de um empresário de comunicação. Neste e no século passado.
Fora isso, contudo, parece outro mundo.

O IMPÉRIO DA LAUDA DE PAPEL
No “meu tempo” (querendo me referir a quando comecei na profissão, jovem, magro e namorador), a principal ferramenta nas redações era a máquina de escrever. Escrevíamos numa folha de papel que, para facilitar a contagem de caracteres e linhas e o trabalho da diagramação, tinha margens impressas e outras indicações. Chamava-se, essa folha, de lauda. Em geral comportava 20 linhas com 70 “toques” (caracteres com espaços) cada. A gente sabia que, quando o editor pedia que a nossa matéria (reportagem, texto) tivesse cinco laudas, precisaríamos escrever cerca de 7 mil caracteres com espaços. Ou se ele pedisse um pequeno box de 15 linhas, estava querendo uns mil toques, porque a linha tinha 70 toques cada.
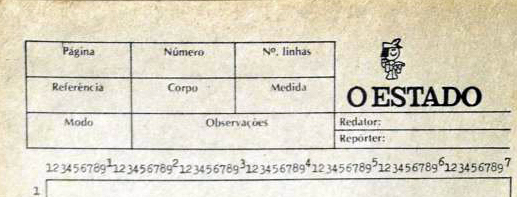
Quem já escreveu à máquina, numa folha de papel e cometeu algum erro, sabe que não tem muito o que fazer: passar um “corretor” (aquela tinta branca), riscar e escrever corretamente acima da linha, com caneta, ou começar de novo.
Às vezes, quase ao final de um texto mais longo, a gente podia ver que se a ordem dos parágrafos fosse modificada (por exemplo, mover o sétimo parágrafo mais para o início), o texto ganharia em clareza e fluência. Como fazer isso numa folha de papel datilografada? Recortar e colar, literalmente, com tesoura e cola (ou grampeador)?
Não era fácil a vida da gente, durante o império da lauda de papel. Quanto retrabalho, quanta demora, quanta frustração… Tá certo que o espaçamento entre as linhas era grande, pensando justamente no trabalho de edição e correção. Permitia escrever com a caneta as correções. Isso funcionava bem num pequeno erro de digitação ou para trocar uma ou duas palavras. Mas e quando o repórter entregava tudo na ordem indireta e o editor queria ou precisava colocar na ordem direta?
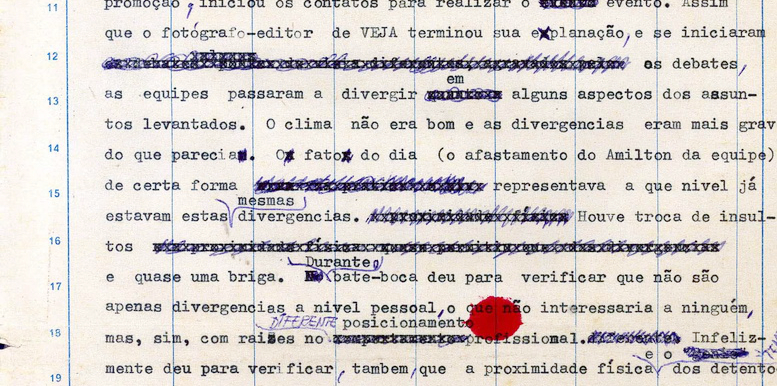
Claro que só no tempo da lauda e da máquina de escrever a gente podia ver gestos dramáticos, teatrais, que tantos editores adoravam protagonizar: olhava por cima do ombro do pobre repórter o que ele estava escrevendo, se aproximava, pegava a lauda e puxava rispidamente da máquina, com ruído e estardalhaço e, enquanto amassava ou rasgava recitava em voz excessivamente alta, para ecoar na redação, cheia de olhos arregalados, a frase lapidar: “tá uma bosta, reescreve essa merda!”
Não posso dizer que, nesse aspecto, esse tempo aí fosse melhor do que hoje. Os processadores de textos permitem escrever, apagar, copiar, editar, gravar, recuperar os textos com grande facilidade. A não ser num cenário de catástrofe, em que não exista energia elétrica, não consigo mais me imaginar, numa máquina de escrever, enchendo de caracteres uma folha de papel.
A TORTURA DAS DISTÂNCIAS
O Mário Medaglia conta, no livro dele, como era difícil publicar as fotos dos jogos de outras cidades. O fotógrafo e o repórter iam de carro a Joinville, por exemplo, faziam o primeiro tempo do jogo e tinham que pegar a estrada de volta a Florianópolis. Porque as fotos, registradas numa película que ainda precisaria ser revelada e copiada, tinham que chegar fisicamente à sede do jornal. A mesma coisa com fotos de neve. Uma correria pra não ter que publicar a foto só no dia seguinte (os jornais naquela época eram publicados uma vez por dia).

Dependendo do evento e do tamanho do jornal, era possível alugar uma máquina de radiofoto. Um trambolho que enviava as fotos por telefone. Muitos minutos para cada foto. Era por equipamentos parecidos com esse (só que conectados por rádio) que o jornal, se fosse assinante de agências de notícia internacionais, como a UPI, recebia as fotos das remessas diárias. Os textos chegavam pelo teletipo: máquina ligada à linha telefônica que escrevia, numa bobina de papel o que a agência enviava.

A gente comemorou quando chegou o telex. Também uma máquina ligada à linha telefônica, que permitia a comunicação remota, por escrito. Uma espécie de whatsapp movido a lenha. As principais sucursais de O Estado, onde trabalhava, tinham telex. Ficou fácil enviar as reportagens. Alguém digitava em Chapecó, gravava numa fita perfurada de papel e, quando transmitisse, a máquina de Florianópolis digitava no papel. Maravilha.
Mas e quando não tinha máquina de telex disponível? O “avanço” foi quando os Correios emprestaram para o jornal uma nova geringonça, chamada “facsímile” (depois também popularmente conhecida como “fax”), que transmitia uma lauda em estonteantes três minutos. A cobertura dos Jogos Abertos daquele ano ficou muito mais fácil, dava para mandar as reportagens mais rápido do que um carro levaria para chegar à capital pelas estradas precárias daquele tempo.
Não consigo pensar que essa ginástica toda fosse melhor, em alguma maneira, do que a facilidade que temos hoje, com a internet e com o telefone celular. A distância não existe mais, quando se trata de enviar fotos e textos. E as fotos e textos chegam com a mesma qualidade com que foram gerados. Sem as linhas causadas por interferências nas radiofotos, sem a necesidade de redigitar os textos. E sem demora.
COMO É QUE SE ESCREVE ISSO?
Como é que a gente pode ter saudade de um tempo em que não era possível saber, em poucos minutos, como é que se escreve o nome de uma pessoa, ou quantos funcionários uma empresa tem, ou qual foi o faturamento no ano passado? Ou mesmo em que rolos a criatura esteve metida nos últimos anos?

Se o jornal não tivesse um departamento de pesquisa e arquivo muito bem estruturado, com gente competente, não dava nem mesmo pra saber se já foram feitas outras reportagens sobre o mesmo assunto, nos últimos anos.
Claro, sempre tinha um colega com conhecimento enciclopédico, que tinha a Barsa em casa (ou na cabeça), mas nem toda hora ele estava por ali. E às vezes o que a gente queria ou precisava saber não era o que ele lembrava ou sabia. Afinal, quando foi que o Martinho de Haro morreu? Ou o Hercílio Luz faleceu? Ou o Figueiredo brigou com a turma na praça XV? E como era o nome daquele ministro orelhudo que levou uma bifa na orelha, na mesma ocasião?
Nenhuma dessas dúvidas cria grandes problemas, hoje. Basta saber como e onde procurar e a gente acha tudo. Está tudo ao nosso alcance. Vão me dizer que isso não é muito melhor que antes?
MAS PUBLICAR É MUITO CARO!
No tempo do Pasquim (não tem ideia de quando é isso? pesquisa na internet, catzo!) pra publicar um jornal era preciso ter dinheiro pra pagar a gráfica, E não era baratinho. Pra fazer um fanzine era preciso ter acesso a um mimeógrafo (que é coisa limitada). Ou dinheiro pra gráfica. Botar as ideias na rua era um problema sério.
No final da década de 60, quando fiz um jornalzinho na escola, impresso em mimeógrafo a álcool, tive que conseguir patrocínio de duas lojas da cidade, para poder comprar os insumos e o papel. Imagina tentar fazer alguma coisa como o Movimento ou o Opinião (corram para a internet, seus desinformados!), tabloides com dezenas de páginas, capa a cores?

Hoje a gente cria um blog grátis, que pode ser visto por milhões de pessoas no mundo todo, gastando apenas o nosso tempo. Se quiser sofisticar, pode comprar um domínio de internet (tipo cesarvalente.com), por uns trocadinhos anuais. Mais barato que um stêncil de mimeógrafo.
Mas não é só o texto que pode ser distribuído. Com um celular e algum talento, pode-se criar vídeos. Com mais algumas habilidades, criar um podcast (uma espécie de programa de rádio portátil). O limite, hoje mais do que nunca, é o seu talento, sua vontade de fazer (e a disciplina para aprender algumas técnicas e manhas).
No meu tempo, naquele tempo em que iniciei no jornalismo, só quem tivesse muito dinheiro podia publicar, em qualquer plataforma. Neste tempo agora, que também é meu, porque ainda não morri e continuo lépido e fagueiro, inventando moda, a facilidade em publicar é tão grande que até imbecis, idiotas e gente mal intencionada fica inundando o mundo digital com suas patacoadas e mentiras.
ERA DIFERENTE. SÓ.
Entendo os colegas e as colegas que às vezes sentem saudade daquele tempo. Eu também gostaria de voltar pra lá. Também gostaria que ainda existisse empregos, salários, redações cheias de gente. A gente se divertia bastante, muitos de nós tinham uma grande esperança em dias melhores. Mesmo com a eleição indireta do Tancredo, a gente achava que o fim da ditadura era sinal de um novo tempo. O Brasil era, sem dúvida, o país do futuro.
E, além e acima de tudo, a gente era jovem. Muitos de nós (talvez eu próprio) se achavam e faziam questão de agir como achões que eram. O que poderia dar errado?
Bom, nem preciso entrar em detalhes. A partir de 2001 a crise das empresas jornalísticas acelerou, os salários de jornalistas despencaram, as vagas reduziram, a precarização se instalou e quando o jornalista consegue fazer alguns frilas por mês, se considera um afortunado. Trabalha em casa, tem MEI ou pequena empresa (pra poder dar nota, porque PJ é o padrão) e parou de frequentar os bares em que os jornalistas se reuniam para falar mal dos patrões e do governo, Os bares fecharam. E, no espelho, aquele sujeito grisalho e enrugado nos olha com pena.
Então, meus caros, minhas caras, “no meu tempo” as coisas eram diferentes. E, para o exercício da profissão, mais difíceis em muitos aspectos. Em outros, mais fáceis e estimulantes: havia um apreço pela qualidade, uma pressão por fazer melhor. O texto da gente passava pelo chefe de reportagem, pelo revisor, pelo editor e cada um deles ou delas dava um pitaco, uma bronca, um conselho. Era impossível não gostar disso e não crescer.
Nos meus sonhos às vezes me encontro numa daquelas redações, com chefias competentes e talentosas, pautas instigantes e tempo para fazer o trabalho, usando um computador com internet, celular e todos os recursos de hoje. É um cenário utópico. Que pode se transformar em pesadelo se a gente sonhar com as condições de trabalho de hoje, com os recursos daquela época. Telefone fixo, telex, sem internet e dependendo de laboratórios fotográficos…
Como diria Horácio: Carpe diem, quam minimum credula postero.
