(Texto publicado em 16 de fevereiro de 2017 e republicado para não esquecer)
Quando comecei a trabalhar como jornalista, a ditadura militar brasileira estava a mil. No final da década de 60 e início da de 70 tinha AI-5, jornais, teatro, música e livros censurados. A gente aprendia, muito rápido, a ler nas entrelinhas, a perceber os sinais de fumaça e, principalmente, que era preciso tomar posição. Ou se era a favor, ou contra. A favor das liberdades e contra a ditadura, ou a favor da tortura e da censura e contra “a baderna e o comunismo”.
Isso era uma coisa muito clara na cabeça de muitos de nós, jovens jornalistas: não dá pra dialogar com quem não quer conversa. Não dá pra ter “jogo de cintura” com quem defende o pensamento único. Hay gobierno, soy contra.

Claro, nem todos pensavam assim. A demonstração mais clara e concreta que a gente teve da existência de jornalistas “a favor”, foi quando começamos a nos interessar pela luta sindical e resolvemos ver como funcionavam o Sindicato dos Jornalistas de Santa Catarina e o seu braço social, a Casa do Jornalista. Naquela época, o governo do estado pagava o aluguel do imóvel ocupado pelo Sindicato e pela Casa. A diretoria era composta por assessores e jornalistas de confiança do governo. Naturalmente, todos anti-comunistas. E desdenhando daquela gurizada cabeluda e barbuda, de sandália com sola de pneu, bolsa a tiracolo, “tudo maconheiro”, ou “tudo comunista”, alguns dos quais, para delícia dos proto-xenófobos de plantão, nem eram nascidos em Santa Catarina.
Vários de nós, eu inclusive, tinham uma boa relação pessoal com diretores do Sindicato. Eram “gente boa”, bons contadores de história, conhecedores dos bastidores da política catarinense que, no entanto, cumpriam fielmente a tarefa de manter a Casa e o Sindicato longe das mãos nada confiáveis daqueles barbudinhos.
O “MOS”
A nossa falta de jeito com a política ficou clara já na primeira eleição que nos metemos a disputar. O “Movimento de Oposição Sindical” (MOS) foi criado informalmente, com o objetivo de reunir o pessoal que queria renovar o Sindicato. Uma chapa foi inscrita e começou a campanha. Os titulares da situação, estranhamente, estavam muito tranquilos. Logo descobrimos que a tranquilidade se devia ao fato de que o MOS não tinha votos. Ninguém se lembrara de fazer com que os partidários da mudança se sindicalizassem. A “base de apoio” era barulhenta e numerosa, mas não votava.
Para a eleição seguinte esse “detalhe” foi administrado com cuidado e, mesmo com todo o excessivo rigor com que cada ficha era examinada e reexaminada, conseguimos sindicalizar um número suficiente de colegas e o pessoal da situação começou a suar e teve que se mexer.
Eles também se atrapalharam em alguns momentos. O MOS foi fazer campanha no Oeste e, poucos dias depois, a situação foi também. Um dos diretores, empolgado e achando que estava ganhando a platéia, começou a “acusar” a chapa de oposição de ser composta por gaúchos. E falou mal dessa “ingerência externa” em Santa Catarina. Ora, na região de Chapecó, quem não é gaúcho, é filho ou neto de gaúchos. O jornal mais lido na região, naquela época, era o Correio do Povo, de Porto Alegre. O auditório ficou estarrecido com a falta de noção do sindicalista da capital.
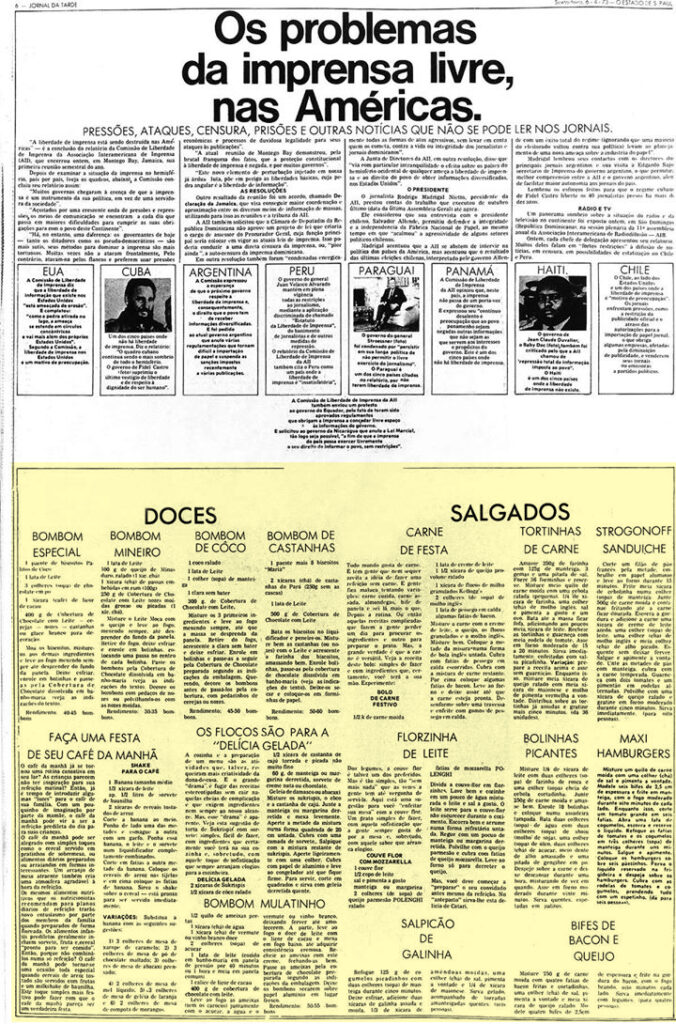
Quando o Moacir Pereira era presidente do Sindicato, a turma de “esquerdinhas” conseguiu ter um bom relacionamento com ele. Moacir bancou a vinda a Florianópolis de jornalistas “de oposição” para debates e palestras e ficou amigo do Audálio Dantas (combativo presidente do Sindicato de São Paulo). Tinha, conosco, uma boa convivência. Mais de uma vez usou seus relacionamentos para interferir a favor de colegas perseguidos ou presos. Eu o admirava por ser, dentre os colegas “de direita”, o que mais conseguia aceitar e conviver com quem pensava diferente dele. A mesma postura permitiu que ele, como fundador e primeiro coordenador do Curso de Jornalismo da UFSC, se cercasse de colegas “de esquerda” e não tivesse criado obstáculos para a entrada de profissionais cuja orientação marxista era notória. E que, afinal, foram fundamentais para que o Curso chegasse a um bom padrão de qualidade.
Ninguém pensava, pelo menos no grupo com que eu mais convivia, em dissimular a posição política ou fazer de conta que não era bem assim. Ao contrário. Apesar da dificuldade que significava conseguir emprego ou alguma promoção nos veículos de então, todos muito alinhados com o governo e mortos de medo da milicada, era importante marcar posição, ter posição e afirmar, sempre que possível, que somos contra a censura, a tortura e os generais no poder.
DE VOLTA AO PASSADO
Com a “redemocratização” (feita a la mode, com eleições indiretas e grande acordão), a coisa foi se diluindo. Éramos todos democratas. A “esquerda” foi admitida no Poder. Meio aos solavancos, porque já no primeiro governo tivemos que engolir o Sarney, que nos fez engolir sua turma. O tempo passou, o MDB virou uma grande arena (em tudo e por tudo semelhante à Arena original), o PT conseguiu os votos que faltavam, Lula-lá e coisa e tal. A esta altura até quem, na década de 70, lambia coturnos, se apresentava como “democrata”, defensor dos frascos e comprimidos.
O mundo, contudo, deu voltas. As águas barrentas e contaminadas passaram sob a ponte. E estamos de volta a um momento da História em que quem está no poder não quer conversa, porque só considera legítimo quem pensa como eles. O “diálogo” possível é aquele que começa com “pois não?” e termina com “sim senhor”. Ou “sim senhora”. Os “comunistas”, os “petistas”, os “petralhas”, são categorias que englobam os banidos. Não faz a menor diferença não ser petista e ter criticado Lula e o PT durante décadas, se não reza pela cartilha oficial, passa a ser inimigo. E inimigo é tudo igual. Tudo “esquerdista”. Exatamente como acontecia na década de 70. E não tem importância que vários dos que roubaram durante o governo do PT, estejam no “novo” governo: só os petistas continuam sendo chamados de ladrões. “Comunista ladrão”, “volta pra Cuba”, é o que se lê nas “redes sociais”, em perfis de gentis senhoras, em tudo e por tudo semelhantes às que batiam panelas nas marchas da família contra o comunismo, nos anos 60.
Foi importante, em certo momento, não ter posição clara, não ser a favor nem contra, mas “aberto a todas as possibilidades, porque o mundo não é mais só preto e branco”. Mas a escuridão está aí, de volta.
Por isso, tal qual naquela época, é importante marcar posição, descer do muro e assumir os riscos de ser quem somos: a favor ou contra? A favor da liberdade sem adjetivos e contra a censura. Contra as injustiças e a involução das conquistas sociais. Isso nos criará inúmeros problemas e dificuldades. Não seremos mais recebidos em muitos ambientes. Rirão de nós nas rodinhas de engravatados. Seremos tratados com os rigores da lei (“aos amigos, tudo, aos inimigos os rigores da lei” é uma daquelas frases de autoria incerta, às vezes atribuída a Maquiavel, às vezes a Getúlio Vargas). Assumir publicamente posições que desagradam os poderosos da hora não é coisa para fracos, para democratas de facebook, para quem gosta de ser paparicado.
Mas, se para alguma coisa a memória serve, e se alguma utilidade tem a experiência acumulada em décadas, parece-me que agora, tal qual no distante 1970, a melhor coisa a fazer é assumir-se. Sair do armário confortável e protegido das “frentes amplas” em que muitos de nós vivemos por tanto tempo e enfrentar a realidade: o País que essa gente está construindo não tem nada a ver com o País em que eu gostaria de viver. E, diante disso, não se deve ficar calado, inerme ou invisível.
Tal e qual naqueles anos de chumbo, neste tempo de agora não adianta tentar explicar, aos que se acham donos da cocada preta, que ser contra uma coisa não significa perdão automático para erros e ser a favor disso ou daquilo. Essa confusão simplista proposital faz parte da retórica de intimidação e os ajuda a pensar que entendem situações complexas.
Não tenho partido, não faço parte de nenhum grupo, mas tenho posição. Sei onde estou e para onde quero ir. Vejo, cada vez com maior clareza, quem são e como agem os intolerantes e os imbecis. E me esforço, sem ingenuidade, para não ser nem agir como eles. Para isso serve a memória.
